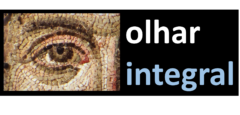Os católicos deveriam ter um partido ou votar obrigatoriamente em alguns candidatos e não em outros?
Como sublinha o Papa Francisco, na Fratelli tutti (FT), “a Igreja respeita a autonomia da política, não relega a sua própria missão para a esfera do privado. Pelo contrário, não pode nem deve ficar à margem na construção de um mundo melhor nem deixar de ‘despertar as forças espirituais’ (BENTO XVI, Deus caritas est, DCE 28) que possam fecundar toda a vida social. É verdade que os ministros da religião não devem fazer política partidária, própria dos leigos, mas mesmo eles não podem renunciar à dimensão política da existência, que implica uma atenção constante ao bem comum e a preocupação pelo desenvolvimento humano integral. A Igreja […] não pretende disputar poderes terrenos, mas oferecer-se como uma família entre as famílias […] disponível para testemunhar ao mundo de hoje a fé, a esperança e o amor ao Senhor, mas também àqueles que Ele ama com predileção” (FT 276).
Seria enganador, contudo, supor que existem princípios políticos confessionais, isso é que nascem da fé, dissociados da razão e da natureza humana, a serem seguidos pelos católicos. Sua natureza é de origem teológica, uma reflexão iluminada pela fé (cf. Compêndio de Doutrina Social da Igreja, CDSI 72-75), mas ela se destina a toda a humanidade – não apenas aos que têm fé (CDSI 83-84). Por isso, seus princípios no campo sociopolítico podem ser compreendidos e seguidos a partir de uma reflexão racional sobre a natureza do ser humano, da sociedade e da conjuntura.
Os partidos políticos são o espaço privilegiado para que a participação política se consolide em ações precisas e objetivas, mas, por esse alcance universal da doutrina social da Igreja, seria perigoso imaginar um único partido como portador da mensagem cristã para o mundo. Vários partidos podem incorporar, em grau variado, os princípios da doutrina social. Além disso, a história recente mostrou, na prática, os limites e as decepções trazidas pelos partidos autodenominados “democratas cristãos”, que muitas vezes usavam o cristianismo de forma falsa e demagógica. O candidato ideal, perfeito tanto na teoria quanto na prática, tampouco existe, por um motivo muito simples: todos eles são seres humanos limitados e sujeitos ao pecado – como nós mesmos, diga-se de passagem.
A partir dessas constatações, o Compêndio de Doutrina Social da Igreja esclarece: “O cristão não pode encontrar um partido plenamente conforme às exigências éticas que nascem da fé e da pertença à Igreja: a sua adesão a uma corrente política não será jamais ideológica, mas sempre crítica, a fim de que o partido e o seu projeto político sejam estimulados a realizar formas sempre mais atentas a obter o verdadeiro bem comum, inclusive os fins espirituais do homem” (CDSI 573), de tal forma que “a ninguém é permitido reivindicar exclusivamente, em favor do seu parecer, a autoridade da Igreja: os crentes devem antes procurar esclarecer-se mutuamente num diálogo sincero, guardando a caridade mútua e tendo, antes de mais, o cuidado do bem comum” (CDSI 574).
Isso não quer dizer que os cristãos não possam se organizar em partidos e frentes que consideram mais condizentes com suas convicções. Não podem apenas impor esses grupos como a única expressão política válida para toda a comunidade cristã. Assim, “a adesão a um partido ou corrente política seja considerada uma decisão a título pessoal, legítima ao menos nos limites dos partidos e posições não incompatíveis com a fé e os valores cristãos” (CDSI 574).
Existem posições e princípios incompatíveis com a fé e os valores cristãos, mas essa questão não pode ser analisada de modo esquemático. É muito fácil para um demagogo declarar que comunga com os princípios cristãos e depois ter uma conduta totalmente oposta a eles. Ou então selecionar alguns princípios e desconsiderar outros. A confiança na coerência e na honestidade pessoal de um político é uma avaliação sempre subjetiva. Podemos discordar, nesse aspecto, do juízo de um nosso irmão, mas não podemos obrigá-lo a concordar conosco.
Então o que fazer numa situação em que nenhum candidato comunga plenamente com os princípios cristãos, mas cada um concorda em alguns aspectos apenas, ou se os candidatos que parecem mais afinados com um dos princípios são também os mais distantes do outro?
Nesse caso, existe sempre uma questão de discernimento que envolve não apenas o discurso teórico, mas as realizações efetivas e até a confiança moral que depositamos na palavra de cada um deles. Contudo, um fator fundamental é não renunciar a um princípio em nome do outro, principalmente quando fazemos isso pensando que a vitória eleitoral e o poder conferido a um candidato garantem o bem comum e justifica que sacrifiquemos os princípios irrenunciáveis com os quais temos menos afinidade.
Um dos contra testemunhos mais danosos que podemos dar a nossos irmãos de outras confissões religiosas ou ateus é justamente essa tendência de escolhermos algumas causas que nos parecem mais simpáticas e “esquecermos” as demais. Fatalmente aqueles que estão mais sensibilizados pelas causas que rejeitamos irão rejeitar não apenas a nós, mas ao próprio cristianismo, alegando que somos hipócritas e nossos valores não são confiáveis.
Quando chegamos nesse ponto, temos que defender ainda com mais insistência os princípios que acreditamos estarem sendo postos em risco pelo candidato que ganhou a eleição, seja ele o que escolhemos ou o outro. Por exemplo, se escolhemos um candidato que se diz pró-vida, mas nos parece pouco preocupado com os mais pobres, temos que nos comprometer ainda mais com a transformação da sociedade e a justiça social. Se escolhemos um muito comprometido com os pobres, mas com posições dúbias em relação ao aborto, temos que aumentar mais nossa militância pró-vida.
Além disso, temos que lembrar que o Executivo não governa sozinho. As escolhas que fazemos para deputados e senadores são muito importantes para criar um contexto de equilíbrio onde os princípios irrenunciáveis sejam aplicados de forma integral.