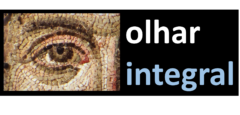O leitor já deve ter lido vários artigos sobre a situação política da Nicarágua de Daniel Ortega e da perseguição da qual estão sendo vítimas os cristãos daquele país. Trata-se de uma perseguição de natureza político-partidária: os cristãos são perseguidos não porque seu Deus seja outro que o de Ortega (ao menos oficialmente…), mas sim porque não se dobraram a uma vontade tirânica. As perseguições religiosas quase sempre são assim: parecem ter uma causa confessional, mas são motivadas por interesses econômicos e políticos. A diferença é que em alguns casos – como neste da Nicarágua – isso é evidente, em outros não.
O caso nicaraguense, além de demandar orações e solidariedade, nos dá muito o que pensar…
Lembrando Ernesto Cardenal
Em primeiro lugar, para os mais velhos, é impossível não lembrar do episódio constrangedor envolvendo São João Paulo II e Ernesto Cardenal, poeta e sacerdote nicaraguense. Diante do triste quadro fornecido pela ditadura somozista, de direita, que dominava a Nicarágua, padre Cardenal aderiu ao marxismo e chegou a integrar a Frente Sandinista de Libertação, liderada por Daniel Ortega. Com a vitória do sandinismo, em 1979, integrou a Junta de Governo, como Ministro da Cultura. Numa viagem à Nicarágua, em 1983, São João Paulo II o censurou publicamente, num dos gestos mais polêmicos de seu pontificado. Dois anos depois, Cardenal foi suspenso de suas atividades sacerdotais pelo Vaticano, que as considerou incompatíveis com seu cargo político. Em 1994, contudo, o próprio Cardenal, desiludido, rompeu com o sandinismo – posição que manteve até sua morte, em 2020.
Independentemente da validade maior ou menor da insurreição sandinista contra o regime somozista, que foi um dos mais cruéis e desumanos da América Central, da maior ou menor descortesia de São João Paulo II, existe uma lição na história de Cardenal, um homem brilhante e, sem dúvida, um idealista que procurava o melhor para seu povo. A Igreja não pode se omitir de um juízo ético sobre os malfeitos humanos na política, mas deve manter uma justa distância, que lhe permita exercer com liberdade sua função tanto crítica quanto educativa. Além disso, o exercício do poder tem sempre a capacidade de corromper mesmo os supostamente justos. Não é conveniente que a Igreja se confie ao poder político e/ou permita uma confusa identificação entre mando temporal e autoridade espiritual. Isso vale, não custa frisar, tanto para os que se consideram de esquerda quanto para os que se consideram de direita – e até mesmo para os “de centro” (as comunidades cristãs já sofreram muitas desilusões também com políticos ditos “moderados” que se apresentaram como defensores da fé e representantes do cristianismo junto ao poder).
O Brasil não é a Nicarágua
Nos últimos tempos, muitos apontam o perigo do Brasil se tornar uma nova Venezuela, ou uma nova Nicarágua, em função da vitória eleitoral de Lula. Analisando friamente a situação, temos que reconhecer que a possibilidade disto ocorrer é muito pequena. A história política, a solidez das instituições, por mais precárias que pareçam a nossos olhos, a enorme extensão territorial e a pluralidade das forças sociais e econômicas existentes fazem o Brasil muito diferentes destes outros países.
Para que um golpe autoritário dê certo, um país não pode ter um real equilíbrio entre os Poderes, deve ter um Executivo muito mais forte que os demais; a estrutura e a pluralidade social não podem ser grandes, pois quanto mais complexa e diversa for a sociedade, mais difícil congregar forças capazes de darem um golpe; as Forças Armadas devem ter pouco apreço pela democracia, de modo a serem facilmente cooptadas pelos golpistas. São todas condições que não são encontradas em nosso país na atualidade, como os últimos acontecimentos mostraram.
O Brasil com Lula não é como a Venezuela com Chavez e Maduro, ou como a Nicarágua com Ortega. Assim como o Brasil com Bolsonaro não era o Peru de Fujimori, considerado por muitos o mais autoritário governante de direta da América do Sul no período recente. Não é que não estejamos sujeitos a ameaças a nossa democracia. Ela, como todas as demais, em algum grau, só pode se manter com a permanente vigilância e o consenso de toda a sociedade. Sem dúvida, contudo, tem hoje em dia robustez interna que lhe dá sustentabilidade ao longo do tempo, mesmo com todos os seus problemas e limites (que precisam ser sanados, evidentemente).
Não estamos livres de ameaças trazidas por partidos e posicionamentos ideológicos autoritários. Mas nossos problemas, à esquerda e à direita, se aproximam mais daqueles de outros países latino-americanos, como a Argentina, imersa numa crise socioeconômica que dura décadas e parece infindável, ou o Chile, que era considerado um modelo de sucesso no continente até a recente crise de 2019. Entender as diferenças de contexto político, social e econômico são importantes para enfrentar os problemas de forma realista e adequada…
Um diálogo e uma solidariedade que superem as ideologias
O grande desafio que a crise nicaraguense nos apresenta é conseguirmos ser solidários com um povo e uma Igreja que sofrem perseguição de um regime de esquerda, sendo que nosso governo também é de esquerda. O posicionamento histórico, no mínimo ambíguo, do PT em relação aos regimes autoritários de esquerda na América Latina é um fato. Pesam, nesse posicionamento, uma história colaborativa, no passado, e o esforço de criar, no presente, uma aliança regional de esquerdas.
Oposições gritando têm o seu impacto, mas – nesse caso – o mais importante é o protesto daqueles que votaram no PT no segundo turno das eleições. Um partido vitorioso não precisa se incomodar tanto com seus opositores, mas deve satisfazer seus simpatizantes. Por isso, é particularmente importante que os eleitores de esquerda reconheçam os desmandos do governo nicaraguense e peçam que o governo brasileiro se solidarize com os perseguidos políticos e com a Igreja do país.
A direita também tem seu papel nesse processo. Mais do que a denúncia partidária, da repetição exaustiva de que o outro é autoritário, esse é o momento de uma “comunicação empática”, que busque entender o outro e procurar ajudá-lo a ver as falhas de seus correligionários. Não é hora de querer se impor ou “provar que o outro está errado”, mas sim de ajudá-lo a perceber “como pode ser melhor”.
Não só porque nossos irmãos católicos estão sendo perseguidos, mas pelo bem de toda a população nicaraguense e de nós mesmos, a situação da Nicarágua nos desafia a sermos mais cristãos, de abandonarmos nossas posições partidárias – contrárias ou favoráveis ao regime atual – para um diálogo que nos ajude a ser sempre menos ideológicos e mais fiéis ao amor e à solidariedade.
Francisco Borba Ribeiro Neto
Publicado originalmente em Aleteia
Siga OLHARINTEGRAL no Instagram
ou no Facebook – a realidade vista a
partir da doutrina social da Igreja.